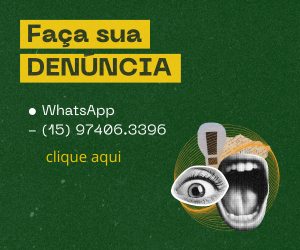Mário de Andrade escreveu um delicioso conto repleto de humor ácido (devemos esquecer o racista humor “negro”), denominado “O peru de Natal” (1942). O narrador nos conta que o patriarca da família morrera cinco meses antes do Natal e que, por pudor e luto, a casa silenciou na data natalina. A partir daí começa a troça. O pai era um chato, uma pessoa cinza como descreve Mário de Andrade. Não gostava de festas, de arroubos e, pra piorar, resolveu morrer antes do Natal e obrigar a família ao luto eterno. Vivo, mesmo morto.
Cansado depois de alguns anos, o narrador resolve fazer uma ceia pra virar a página. Farinhas, iguarias e o famoso peru estavam à mesa. Tudo ia bem, todos se divertiam muito, se refestelavam, até que a mãe solta a frase: “Só faltou ele” e dirigiu o olhar para o quadro central pregado na sala, com o falecido e sua retidão de caráter. Em meio à festa, o narrador busca a solução: elogiar o pai, endeusar o homem, ludibriar a verdade daquele homem insosso. À medida que o pai passa a ser redivivo, o peru vai desfalecendo. Eis que o patriarca vira estrelinha lá no céu. Vivíssimo e inatingível. Morto agora, só o peru. A família estava pronta para rir, chorar, banquetear. Mário descreve o mundo libertado do pai falecido: “Ia escrever ‘felicidade gustativa’, mas não era só isso não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores do grande amor familiar. E foi, sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si…”
Livre pela ceia de Natal, o narrador vai atrás de outra saia, outra vida.
O peru como ave de banquetes e ceias é antigo. Tenho amigos desavisados que se recusam a comer a iguaria, por ser originária do costume cultural norte-americano. Xenofobia em comida é dose pra leão.
Além de estranha, a rejeição é equivocada. O bicho que é o único a morrer na véspera não veio dum resort do Donald Trump.
O peru domesticado é o Meleagris ocellata. Natural da península do Yucatan, antigo Império Maia, hoje México. Então você, meu amigo anti-imperialista, pode se deleitar com o frangão de cinco quilos. As ceias no Império Maia com preparados à base de alho-porro, pimentas e sais, datam de 1503. Os Estados Unidos nem haviam sido colonizados.
A questão da véspera era o hábito de preparar o bicho no dia 23 de dezembro. Tascavam-se dois copos de cachaça na goela, a ave ficava tontinha e tombava de bêbada. No dia seguinte, ao ser abatido, o peru estava molinho, o que iria facilitar a digestão após o cozimento. Tal hábito foi substituído por esses pobres coitados que vivem três meses em cativeiros e se alimentam de rações hipercalóricas, são mortos, depenados, temperados industrialmente e terminam por enfiar-lhe um termômetro no peito desfalecido. O peru zapatista pelo menos se despedia da vida com duas cachacinhas da boa.
A ceia de Natal brasileira lembra a do Líbano. Uma glutonice que começa no dia 24 à tarde e só termina ao escurecer do dia 25 de dezembro. Temos saladas, farofas, batatas (com a indispensável maionese), massas, arroz, vez ou outra um feijãozinho e as variadas carnes como o Rei Peru, as invencionices do chester, além de peixes e suínos. Quem dificilmente aparece é a carne de boi. De sobremesa temos os doces de frutas, os bolos, chocolates e mais recentemente o pão do “Toni”. Bebida é o americano refrigerante, cervejas e um pouco o vinho e espumantes. Ceias assim diversificadas foram encontradas em sítios arqueológicos das cidades mesopotâmicas de 2500 a.C.
Eram oferecidos banquetes para reis, rainhas, deuses, princesas, para os nubentes, para o ano que começava, para a colheita, para o plantio. A humanidade nos seus primórdios adorava comer, beber e compartilhar.
Desde a pré-história, lá pelo por volta de 3 milhões a.C., nossos ancestrais passaram a comer tudo o que viam pela frente. Sempre fomos o animal de maior gulodice da terra. Ou você já imaginou uma girafa escolhendo um jantar num cardápio de restaurante? Homens e mulheres comiam raízes, folhas, frutas, insetos, pescados, animais mortos e bebidas (existem resquícios de cervejas feitas há 40 mil anos). Comíamos o resto da carcaça dum animal, depois da hiena e em disputa com os urubus. Começamos a formar grupos de caça para roubar as presas de leões, onças e tigres por volta do ano 600 mil a.C.. Os incêndios naturais nas florestas permitiram à humanidade comer carne assada muito antes de domesticarmos o fogo.
Charles Darwin considerava a domesticação do fogo algo tão importante para a humanidade como o aparecimento das línguas. Totalmente controlado por volta de 200 mil a.C., as cozinhas só irão aparecer na Mesopotâmia e no Egito Antigo e, por consequência, as ceias e banquetes citados. A cozinha revoluciona a sociedade. Um cômodo só para preparar as refeições passou a ser a grande conquista das casas. Ali, pessoas especializadas em misturar ervas, temperos e alimentos passaram a ser o centro do lar. A família gira em torno da cozinha, o patriarca é apenas o cão de guarda da propriedade que leva seu nome. As pessoas querem estar entre os odores, sabores e festas proporcionadas pelas cozinhas. Nos palácios, elas geravam dezenas de empregos, desde os cozinheiros aos cervejeiros, os preparadores de carnes, os padeiros, etc..
“Festa de Babette” é um belíssimo filme dinamarquês de 1987. Venceu o Oscar de Filme Estrangeiro (com justiça, diga-se). dirigido por Gabriel Axel, e com roteiro baseado em conto de Karen Blixen. No final do século XIX, uma ativista francesa foge da Comuna de Paris e vai trabalhar de faxineira e cozinheira na casa de Lorens, localizada na Jutlândia. Babette acaba ficando por 15 anos no local e torna-se amiga e confidente das filhas de Lorens: Philipa e Martina. A história começa em 1887 quando Babette acaba de ganhar um prêmio considerável da loteria. A francesa começa então a preparar uma variada, rica e suntuosa ceia de despedida para os moradores do vilarejo e em homenagem ao centenário de Lorens. Entre pratos e preparos, um longo flash back conta a história das duas irmãs. A festa começa e a cidade se enche de gula e vício com os preparados de Babette. Ao final, a francesa revela a todos que não iria mais voltar a Paris, afinal todo o prêmio da loteria havia sido gasto na festa.
Babette é um maravilhoso resgate de vários elementos das ceias antigas. Nos casamentos macedônicos, cada família levava pratos e mais pratos de comida e bebidas caseiras; na festa dos noivos, as comidas e bebidas eram trocadas, numa simbologia dos laços que iriam juntar aquelas duas famílias. Babette devolvia de coração o que recebera em 15 anos num pequeno vilarejo de uma longínqua Dinamarca. A comida era o laço incorruptível.
Nas festas, nos jantares, nas ceias, queremos estar com quem nos ama verdadeiramente, com quem estamos dispostos a partilhar o pão e a vida, a cerveja e a alma.
Com o aparecimento da filosofia e séculos depois, da religião cristã, passou a predominar o caráter dietético da alimentação. Comer era algo para aparecer em livros de medicina e saúde. Peixe e leite não combinam, afinal a mistura dificulta a digestão. Comida quente deve ser misturada com outra quente. Equilíbrio e mediocridade. Temperos e sais viram apenas conservas de alimentos e um prato insosso. Cinza, como diria Mário de Andrade.
Foi só a partir do século XVII, com os italianos e depois os mestres franceses, que nasceu a gastronomia. Uma forma de resgate dos preparos antigos, com acréscimo do conhecimento técnico das nascentes química e física e a libertação da gula. Os pratos e as receitas deveriam buscar uma comida que tivesse um bom gosto, que valesse a pena ser deliciada, numa sensualização dos alimentos. Comer é prazeroso, o bom prato é uma obra de arte. Os odores são divinizados, as misturas são testadas. Não é à toa que a palavra “paladar” só será dicionarizada no século XVIII. A velha hierarquia do fogo na alimentação retorna: os assados são pratos nobres, os cozidos pratos burgueses, as frituras de operários. Cru, apenas para as civilizações antigas ou os miseráveis. O nosso peru é assado, ou, como citado acima: o Rei.
Esse caráter de arte moderna, de uma alimentação quase estética e, consequentemente, da ressignificação da gula, uma ceia da nobreza dos assados e dos laços que unem as pessoas pela comida pode ser encontrado no filme “O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante” (1989), do diretor Peter Greenaway e figurinos espetaculares de Jean Paul Gautier. O enredo trata da história da esposa insatisfeita de um gângster. O casal frequenta sempre o mesmo restaurante luxuoso e nele, a esposa se envolve num tórrido romance com um amante, protegida pelo proprietário do restaurante e chef de cozinha. Ao descobrir a dupla traição, o gângster prepara uma vingança por meio de um imenso banquete e celebração da vida. O chef é obrigado a matar um animal e preparar uma ceia jamais vista, cujo destaque é a carne servida em tamanho natural desse animal. A surpresa se revela ao descobrirmos que o prato principal servido, devidamente assado, era o do amante. Com requintes de crueldade, o filme termina com a esposa adúltera tendo de comer o primeiro pedaço do animal cozido, os órgãos genitais de seu amante morto. O filme lembra também os rituais humanos e animais que sempre estiveram nas ceias e banquetes, em sua maioria para fins religiosos.
E a fome? Nos anos 90, o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns foi duramente criticado ao defender que se um pobre tivesse dinheiro para comprar carne, a satisfação do paladar estaria à frente do costume religioso de jejuar na sexta-feira santa cristã. Arns dizia com verdadeiro espírito cristão que nenhum tabu religioso pode coibir a alimentação e o prazer da boa comida.
Josué de Castro, médico, escritor e geógrafo, nos demonstrou o que é o flagelo da fome. No livro “Geografia da Fome” (1947), ele nos explica com dados empíricos que são a fome e a desigualdade social que permitem a desnutrição e a carência nutricional. A fome é um câncer invisível que alimenta um exército de pessoas raquíticas, doentes, miseráveis e que a médio prazo desenvolverão capacidades cognitivas abaixo do esperado. A fome é um projeto do poder para excluir boa parte da população brasileira da ceia dos alimentos, da educação, da saúde, do trabalho e da libertação individual. Não participar da ceia da vida é uma prisão que produz milhões de famélicos. Depois de quase uma década sem dados de pessoas passando fome no Brasil, passamos a ter cerca de 30 milhões de habitantes sem renda nem acesso ao direito mais essencial de todos: a vida.
Para o mundo cristão, a ceia de Natal é uma celebração ao nascimento de Jesus Cristo. E o que fazia Cristo? Andava pelas cidades e vilarejos pregando. Entrava nas casas de desconhecidos e pedia algo que sempre foi e ainda é dificílimo para as pessoas: partilhar a comida. Caso queira deixar alguém irritado, basta pedir um pedaço da comida que ela levará a própria boca. Desaprendemos a partilhar. Desprezamos estabelecer laços com desconhecidos. Desperdiçamos quilos e mais quilos de nossa ceia, enquanto nosso vizinho mal tem o que comer.
Interessante que o primeiro e o último ato de Jesus Cristo na terra foi estar numa festa e ceia, celebrando a vida por meio de pães, peixes e bebidas. Foi num casamento em Caná que ele fez seu primeiro milagre, o da multiplicação do vinho, para que a festa não acabasse. Sua última reunião com os apóstolos foi em uma ceia, na qual a taça de vinho foi dividida entre os treze presentes. Reunião para celebrar o destino cumprido. Festa pela morte iminente.
A mensagem que fica é: sejamos luz, sejamos alegria, partilhemos , estabeleçamos laços permanentes com o outro. Comer, beber e festejar é o milagre humano.
Para ler o conto “O peru de Natal”, clique aqui.
*Martinho Milani é professor de História, Filosofia e Geografia, doutor em História Econômica e mestre em História da África pela USP. Cofundador e articulista do site de blogueiros independentes Terceira Margem.